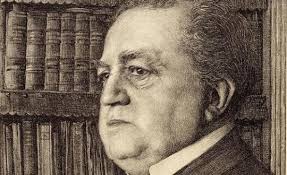Por Peter Leithart
É um ponto simples, obviamente bíblico e parte do credo: Jesus de Nazaré ascendeu ao céu como o Deus-homem, e continua sendo o Deus-homem em toda a sua particularidade, de agora até o fim. Ele é Jesus, o Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. É óbvio! Mas Douglas Farrow demonstra em seu recente livro “Ascension “Theology (T&T Clark, 2011) que essa visão direta da ascensão de Jesus tem profundas implicações para a teologia, e que sua negação causou estragos incalculáveis no cristianismo moderno.
Não que distorções sejam exclusivas da era moderna. Em seu capítulo inicial, ele aponta Orígenes como a origem de “uma longa gradação na teologia da ascensão” que leva até Bultmann. Segundo Orígenes, era mais “condizente com a sua divindade” concebermos a ascensão de Jesus como “uma ascensão da mente em vez do corpo”. Agostinho, mesmo rejeitando a concepção origenista, mina justamente o que deseja afirmar, pois explica a ascensão corpórea de Jesus como um esforço “para remover dos discípulos o obstáculo da sua humanidade, a fim de que pudessem chegar a uma fé robusta na sua divindade”.
É no período moderno que a teologia da ascensão se distorce a ponto de se tornar irreconhecível. Schleiermacher é o primeiro a explicar a ascensão “em termos do efeito que Jesus tem sobre nós ”, tendência evidente também em Kant e especialmente em Hegel. Para o hegeliano Strauss, a ascensão de Jesus é Sua difusão na humanidade, Sua ascensão para se tornar um princípio de desenvolvimento histórico. A teologia da ascensão, portanto, subscreve uma religião explícita da humanidade: “ A humanidade é a união das duas naturezas… A humanidade é a realizadora de milagres… A humanidade é a existência sem pecado… É a humanidade que morre, ressuscita e ascende ao céu”, cantava Strauss.
Farrow ilustra os extremos gnósticos dessa tendência com um resumo de Teilhard de Chardin, para quem “o Cristo ressuscitado não é mais um homem particular”, mas “o poder teantrópico que está lentamente transformando nossa natureza transitória em uma natureza espiritual unificada”. Jesus é deixado para trás, e isso permite a Teilhard sintetizar Cristo, a Igreja e o cosmos, e identificar o progresso humano com a vinda do reino. Farrow insiste, com razão, que a Escritura e a tradição da Igreja sempre insistiram que devemos falar sobre Cristo e a Igreja “da mesma forma que os salmistas, por exemplo, falavam de Israel e seu rei — como distintos, ainda que inseparáveis”, uma distinção que, ele novamente argumenta corretamente, é totalmente compatível com a teologia do totus christus de Agostinho e com o que ele chama de “nova ontologia” da comunhão.
Por vários capítulos, o livro de Farrow avança – estimulante, desafiador e encantador, tudo ao mesmo tempo. Então, ele dedica um capítulo à “presença na ausência”, com foco na Eucaristia, e as coisas dão errado. Recém-convertido a Roma, Farrow quer mostrar, contra os reformadores, que a transubstanciação não é apenas compatível com a Ascensão e o Pentecostes – isto é, com a ausência real de Jesus e Sua presença pelo Espírito – mas que a transubstanciação é necessária para manter a dialética da presença na ausência. Ele alcança seu objetivo, mas apenas iluminando a transubstanciação de maneiras intrigantes.
Citando Herbert McCabe, Farrow insiste, com razão, que a transubstanciação não envolve uma mudança química neste mundo. Em vez disso, a transubstanciação é um fato escatológico. Em vez de falar de Cristo descendo do céu altar após altar, os católicos deveriam considerar que “ao converter pão e vinho em corpo e sangue, o Espírito promove a regeneração de todas as coisas e, de alguma forma, redime a realidade espaço-temporal como tal”. Com essa inserção na criação do que Bento XVI chama de “uma mudança radical, uma espécie de ‘fissão nuclear'”, a transubstanciação visa à conversão dos comungantes e, por meio deles, do cosmos. Bento XVI diz que a transformação do pão e do vinho desencadeia “um processo que transforma a realidade, e que leva, em última análise, à transfiguração do mundo inteiro, até o ponto em que Deus será tudo em todos”. Armados com essa transubstanciação escatológica, os católicos podem manter sua substância e acidentes, sua marcação sonora do antes e depois, sua mastigação de Cristo, mas sob a condição de que a conversão eucarística esteja sujeita não a uma teoria filosófica, mas “à verdade da ressurreição e ascensão”.
Há muito o que admirar nessa formulação. Mas não é a maneira como a transubstanciação tem sido tipicamente explicada, e Farrow sabe disso. Na página 73, ele afirma que “a transubstanciação, corretamente entendida, é um conceito escatológico”, mas já admitiu na página 69 que os debates sobre a transubstanciação na teologia ocidental deram atenção insuficiente à escatologia e que essa falha “deixou espaço na prática para a tendência… de fetichizar a presença pura”. Os reformadores estavam certos em se preocupar com a fetichização, ele admite. A “caricatura” da Missa feita por Joyce em “Retrato do Artista ” baseia-se nos “erros mais graves e deturpações deliberadas”, mas de quem foram esses erros? De Joyce? Não apenas: Farrow reconhece que “a tradição fornece evidências consideráveis… de que os erros abundavam”. Quem, antes do século XX, “entendia corretamente” a transubstanciação?
Apesar de toda a bem-vinda honestidade da discussão de Farrow, há algo muito estranho em jogo: a transubstanciação deve ser defendida em parte por causa da tradição; mas, como a tradição frequentemente não entendeu o ponto principal, precisamos reavivar uma estrutura escatológica, que a tradição suprimiu. Farrow faria bem em perguntar se a transubstanciação teria se consolidado tão fortemente se o caráter escatológico da Eucaristia tivesse sido devidamente destacado desde o início.
Vários outros problemas surgem. Toda a discussão de Farrow pressupõe o que chamei em outro lugar de método da “lente de zoom” da teologia eucarística. Admita a escatologia, mas por que o pão e o vinho participam única e exclusivamente da nova criação? Por que focar nos elementos, em vez da refeição como um todo, e particularmente nas pessoas? Schmemann pode dizer tudo o que Farrow diz sobre a Eucaristia escatológica, enquanto nega a transubstanciação porque não tem um microscópio focado na comida e na bebida.
Farrow não deixa a Igreja de fora da cena, mas quando afasta a câmera e observa o evento de forma mais ampla, sua teoria escatológica se desfaz, e isso porque ele afirma a transubstanciação. É reconfortante vê-lo enfatizar que a transubstanciação não é o ponto final da transformação eucarística, mas visa à ” conversão ainda mais maravilhosa ” do aqui e agora dos comungantes no “glorioso ali e então de Jesus Cristo” por meio do Espírito. Essa conversão ele descreve como uma “consubstanciação”.
Bem feito, cooptando o termo luterano para uma teologia eucarística católica. No entanto, o triunfo retórico murcha em derrota substancial. Farrow observa a afirmação tradicional da Lumen Gentium de que, ao receber o corpo e o sangue, somos “transformados naquilo que consumimos”, mas explica isso como a “obra do Espírito de gerar e aperfeiçoar uma comunhão de ser com Cristo”. A igreja não é, em suma, transubstanciada em Cristo, mas por que não? O pão e o vinho se transformam em corpo e sangue, e isso porque a substância da velha criação é absorvida pela vida da nova. Por que, então, os comungantes não se tornam a substância do corpo e do sangue de Cristo? Se a transfiguração final do cosmos não é uma transformação substantiva de árvores, abelhas, granito e lesmas no corpo de Cristo, por que a transformação proléptica envolveria transformação substantiva? Se o pão e o vinho são as primícias do cosmos transfigurado, por que tudo não está destinado a ser transubstanciado? Segundo o argumento de Farrow, deveria ser, e sua recusa em levar seu argumento nessa direção demonstra que a transubstanciação não é necessária para a realização do objetivo eclesial da Eucaristia. Por que não podemos ter (como Schmemann argumenta, e Calvino sugere) uma translação proléptica da Igreja para o reino sem a transubstanciação do pão e do vinho?
Farrow afirma que a recusa protestante da transubstanciação termina com a confusão erastiana entre Igreja e mundo. Discordo, mas não consigo encontrar nada do que reclamar neste argumento: “Sem o reconhecimento adequado da real ausência de Cristo… [a Igreja] é propensa à autoglorificação e às ilusões de poder mundano… [Mas] onde a ausência não é desafiada por uma presença escatologicamente decisiva – cabeça e membros em verdadeira comunhão de corpo e alma – a ‘presença’ eventualmente será encontrada onde quer que a escolhamos, mesmo em principados seculares que exigem conformidade da Igreja e o silenciamento de seu evangelho.” Ou seja, a confissão da presença e ausência de Jesus na ascensão é decisiva não apenas para a Eucaristia, mas para a saúde e a missão da Igreja como um todo.